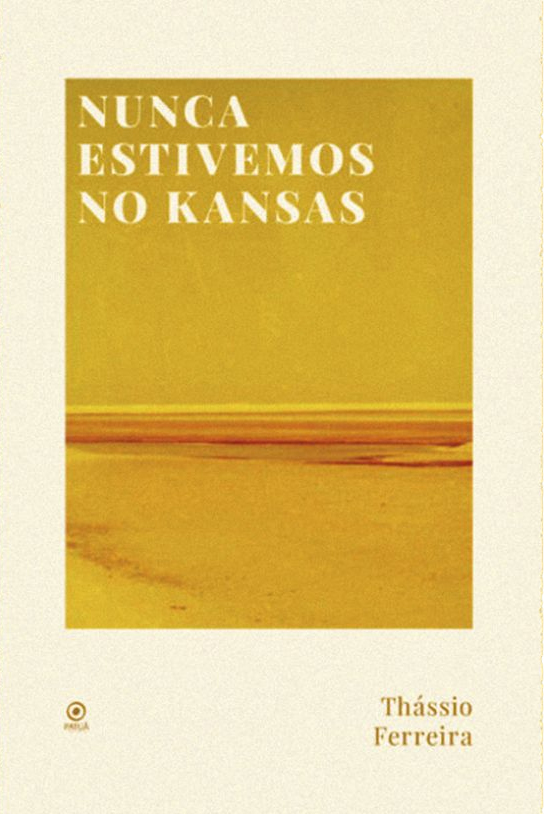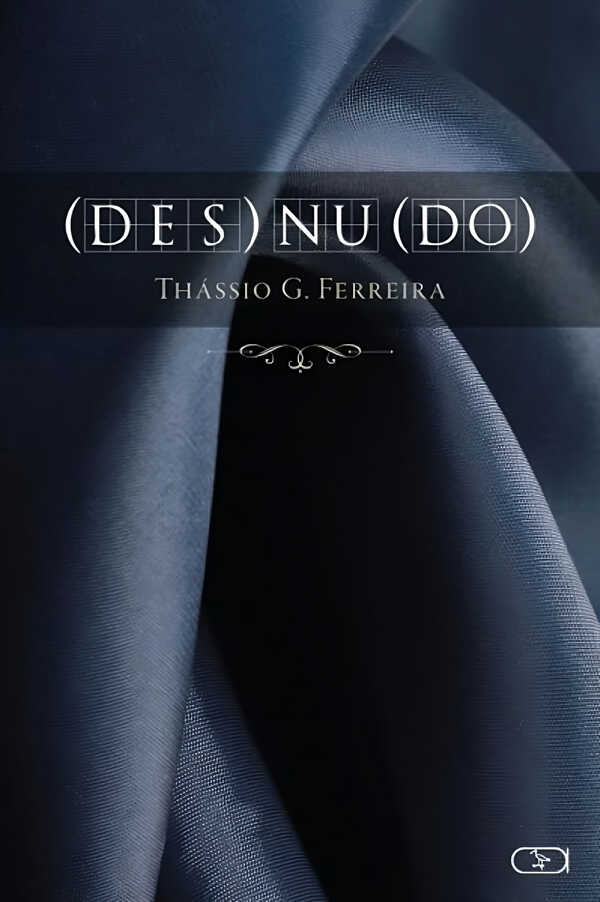Vinte e dois contos que transitam por diversos cenários, relações humanas e estruturas narrativas, construindo uma cartografia de arestas e descaminhos, desde um idílio qualquer onde nunca estivemos — individual e coletivamente — até o presente e além.
Parte dos contos reunidos angariou prêmios como Off-Flip (2019) e Prêmio Cidade de Manaus (2020), foi finalista do Prêmio Sesc (2017) e publicada em veículos como Jornal Rascunho, Revista Garupa e Vício Velho.
“… atinge o leitor de forma vertiginosa ao se debruçar sobre crueldades, preconceitos, opressões, privilégios, vaidades, hipocrisias e um amplo abandono estrutural. (…) Nunca estivemos no Kansas carrega em sua natureza uma visceralidade que primeiro nos estilhaça, e logo nos impulsiona. É leitura inquietante.” (orelha de Carolina Hubert — fundadora e editora da revista Vício Velho).
O livro pode ser adquirido autografado diretamente com o autor, pelo email thassioescritor@gmail.com, ou no site da editora Patuá.
* contos escolhidos *
Tetris
para Romeu
Foi um caminho acidentado até aqui, ele pensa, tateando a direção a dar às próprias pernas. Mais um emaranhado de descaminhos. Como aquele joguinho que ele me mostrou no minigame, antes dos celulares dominarem o mundo, como era mesmo? Peças de formatos recortados caíam do alto da tela e a gente precisava encaixá-las, cada vez mais rápido, e quando as encaixadas formavam uma fileira horizontal ela desaparecia, a gente ia encaixando aquela porra tentando impedir de se amontoarem até o alto, cada vez mais rápido, mais rápido, era um inferno aquele jogo. Tetris, eu acho. Quando as peças não encaixadas atingiam o topo da tela, a gente perdia, e tinha que começar de novo. É, foi assim com a gente, diz a si mesmo, ligeiramente animado com a nova metáfora, achando-a mais elaborada que a primeira. Nós dois tentando encaixar nossos recortes, ângulos, arestas, tentando aplainar, amontoando um monte de peças até um ponto em que era necessário começar de novo, fingir que limpávamos a tela e os pedaços desencaixados não continuavam lá, em algum lugar: nas mãos subitamente em trégua e cansaço, no fundo das línguas, em vez de na ponta, nas paredes da vesícula biliar dele, que a minha já não tenho. Sei lá.
Ele gosta de usar palavras do seu tempo de engenheiro do exército, como aplainar, no meio dessas divagações que cultiva com esforço na companhia do filho, tentando se conectar a ele, nada engenheiro, nada militar.
Depois de lerem juntos o texto de apresentação na parede, vão se afastando enquanto percorrem a exposição: o filho muito concentrado, atentíssimo a cada foto, ele mergulhado em seu próprio dentro, observando as molduras apenas o suficiente para estar ali, junto do filho, buscando encaixar sua dureza no mundo daquele homem que ama de um jeito incompreensível para si mesmo. Às vezes, diante de alguma fotografia, um pensa em chamar o outro, perguntar o que acha, mas: calam. O silêncio entre os dois também um misto de trégua e carinho. O cansaço de tantas diferenças amontoadas que insistem em tentar conciliar, porque esse amor incompreensível pede sem fim, e cansa muito não conseguir desamar quando o amor é tão complicado. Mas o cansaço não cansa. O amor: maior. E por vezes o silêncio aplainando mais que as palavras.
–– Pai, tem uma exposição. De fotos. Quer ir comigo?
A coreografia já dançada outras vezes, com variações — num dia Posso levar alguém no casamento da prima?; noutro Um filme indicado ao Oscar, pai; noutro passos sem som. E depois de tantas surpresas arremessadas feito um sapato — Pessoal, este é o Beto; ou Focus Features presents: Brokeback Mountain; ou a cueca com sangue no banheiro, sem aviso — ele agora sabe que provavelmente virá a pergunta sobre do que trata a exposição. E sabe também, com muita calma, com a vontade do amor maior que o cansaço do amor, que se a pergunta não vier, como não vem, ele terá a força e a disciplina de lhe dizer, como diz (com muita calma, com a vontade do amor): O artista se chama Alair Gomes. São fotos dos anos setenta e oitenta, rapazes se exercitando na praia de Ipanema.
Talvez não devesse dizer rapazes, pensa antes mesmo de terminar a frase. Conhece os fantasmas do pai, aquelas velhas ideias: monstros no armário tocaiando e desvirtuando jovens desprotegidos, transformando-os em a-ber-ra-ções — ele lembra a espuma escura da voz, entre acusatória e suplicando que admitisse: sim, fora desvirtuado, um jovem inocente, logo ele, menos inocente que engenheiro. Apressa-se em tentar outra forma de dizer, outro encaixe: Aquela época que a galera começou a malhar, sabe? Tinha uns aparelhos na praia, mais simples, e os caras (cara é uma palavra menos inocente, menos alarmante) faziam barra, abdominais em pranchas de madeira. O Alair tirava várias fotos e depois juntava de um jeito que sugere uma história, como se ele narrasse algo. Ficaram bem famosas. Os truques na manga: dar nome aos fantasmas, para assustarem menos o pai, e trazê-los à claridade da fama, essa legitimação quase absoluta de nossos tempos.
Um pedaço de silêncio. Tentando se encaixar.
–– Eu vou.
Ele hesita um pouco. É sempre difícil saber o quanto dizer. Que os rapazes estão sempre em sunga, ou pelo menos sem camisa. Que as composições, no mais das vezes, sugerem uma tensão sexual criada pelo fotógrafo. O Alair. Mas ele cala. O cansaço. Afinal, o que se espera de fotos na praia? Daquele filho que já tanto disse, gritou, cuspiu. O pai sabe, ele pensa. Ou que tire suas próprias conclusões.
O pai sabe? O que não sabe, pressente, encaixando palavras e lacunas? Ele vai. Esforçando-se naquele exercício de amor: amoldar suas fronteiras às do filho. Rapazes se exercitando na praia, pois bem. Vamos. Eu vou.
Aproxima-se do rapaz, que admira mais demoradamente uma sequência específica de fotos. Não lhe interessa muito, a princípio, aquelas três imagens na moldura, como nenhuma das outras. Interessa-lhe o filho. E reconhece nele pequenos sinais cujo significado já aprendeu, a contragosto: passa a língua nos lábios, discretamente, primeiro o de cima, depois o de baixo, sem intervalo. Recolhe a língua. Tem o olhar vidrado mirando as fotografias. Sorri de leve, inclinando a cabeça. Aperta com a mão direita a falange do dedo médio esquerdo.
A coreografia já dançada outras vezes, com variações. Antes que sua disciplina de engenheiro, de militar, possa impedi-lo de olhar o que prende a atenção do filho, ele olha, talvez numa esperança eternamente frustrada (que mesmo assim insiste em subsistir) de ver o que sequer acredita que verá, e ali, em meio àquelas fotografias, todas de rapazes, é ainda mais improvável. Talvez uma vontade atávica de entender o filho, quem sabe um dia ele consiga, num lampejo qualquer, compreender: o desejo daquele homem tão carne da sua carne, mas tão diferente dele, tão ao seu alcance mas tão distante ali defronte a uma imagem em preto e branco que ele pressente como quem sabe –– ele já sabe há tanto tempo –– do que se trata.
Mira a foto: o rosto de Valter mirando o espaço para fora da moldura. Algum ponto atrás de seu ombro esquerdo, parece. O Valter? Sim, ele reconhece, sem nenhuma dúvida: o Valter. E alguém ao lado dele, o corpo (teso) em perfil, o rosto em direção oposta, olhando para trás de Valter, para o fundo da foto, quase totalmente de costas, mas ainda reconhecível, ao menos para ele: ele. Ambos de calças e sem camisa, sob um sol qualquer, saindo do quartel, ele nem lembrava que um dia, mas lembra. Ele. E o filho que olha sua foto, pés descalços na areia, músculos alongados contra o mar, aquele rapaz dos anos setenta ou oitenta preso numa fotografia de quem mesmo, qual a porra do nome desse fotógrafo que o meu filho me trouxe para ver, e o filho novamente passa a língua nos lábios, (agora menos) discretamente: primeiro o de cima, depois o de baixo, enquanto aperta com a mão direita a falange do dedo médio esquerdo.
(peças caem muito mais velozes do que ele é capaz de sequer tentar encaixar, até cobrirem toda a tela)
(rio) afora
para Rodrigo
Caminham, pois a mãe não volta. Mais velha, a garota compreende, simplesmente. Caminham, pois. Rio abaixo, quase feito apenas uma intuição, vem-lhe, em torpor de prestes a lembrar um sonho, mas sem: a mãe contando — dentes tão abertos como se duplicando as vogais — dos largos onde o rio desemboca, panos inflados, cascos com gente dentro, e mais gentes por toda parte, no logo antes e no depois das beiras. Então pra lá se vão, enquanto ela tenta imaginar como será esse destino em que não se cabe, no quando chegarem, enquanto no aqui da estrada esgravatada de sol, tenta também acalmar o irmão: para que se acalme ela mesma de ter medo.
O dia parece de uma temperatura muito particular. Como certo outro, o pai à frente, sem dar a mão nem medir passo, vez em quando só virando e repetindo, num tom que a ela soava mais desafio que convite: Vamos. Chegam à primeira fileira da plantação. A última, do lado inverso. Avançam de volta, rumo à casa e à mãe vigiando da sombra: inspecionando. Foi insistência dela vir. Esmiúça as mudas com afinco, tenta lembrar das palavras dele meses antes, no plantio, que nome foi nesse ângulo donde se avista o velho ingazeiro?
Porque o amor da mãe sempre fora uma dádiva. O dele não: terra a ser conquistada. O dela, ponto de partida e eterno retorno, regaço, mas o dele: vácuo a sugar o/em movimento, rumo e desrumo, comichão que aviva, fidiputa, desgraça de querer justo o não ter, por quê? Porquê.
Erra mais do que acerta aquele ror de indagações a um tempo monocórdio e seco, meio farpejante: E esse aqui, é pé de quê? Remói-se de lembrar mais é o cheiro do pai, em vez das sílabas que agora ele reinvoca: Mamoeiro, lagartixa, ma-mo-ei-ro. Tem vezes que seu jeito em dizer aquele apelido, lagartixa, é um cafuné rarefeito, mas cafuné. Bem diferente dessa feita, quando a quentura da tarde se entranhou nela estralando espinhos, como agora na estrada. Lá, nos quandos da memória, voltaram, pra sombra da casa e da barriga da mãe crescendo. Aqui: seguem. Abaixo.
Muitos depois, desceu água da mãe, e veio o irmão. Chorava um tantão, no começo. Depois diminuiu. Assim que viu, primeiro não viu não: diferença. Menor, claro. Enrugado. Mas era um igual, parecia. Quase. Só que o pai. Foi nele que enxergou: pegando o pequeno em abraços de uma redondez líquida, saliva de mãos, ombros, caixa torácica. Cochichando Lagartixiiinha, de um jeito meio visguento mesmo, molejante — cafuné suculento, toda vez. Aquele espichado um rio, a cada pronunciação. E pra ela, não por quê? Naquela época, buscava era curso acima, cavoucando margens atrás da nascente.
Foi debaixo do som da chuva: ela e a mãe compartilhando lavar o mais novo, audindo os vários ritmos que a bacia ecoava no esfrega com a água. Acalantou baixinho: lagartixiinha, estendendo também, o quanto conseguia, em seu parco acúmulo de ser, o segundo i. Como se a repetição pudesse-lhe explicitar algo que escapava. A mãe perguntou, em sua maneira tão nada confrontativa, como se perguntar fosse apenas um outro formato de não dizer: Você entende? Fez que sim com a cabeça, embora. Mudou de ideia num breve, entanto: Mãe — eu não entendo. Ele é como teu pai. Por isso. Entende? Ao jeito dela, talvez, que é sempre ao próprio jeito que se compreende: então isso. Assim. Carecia ser como ele. Pois pronto: haveria de. Nem teve tempo de praticar, porém. Ainda matutava os comos, quando: na mesma noite, uivo do vento assoviando desde cedo, o irmão pela primeira vez andou firme, poucos passos, verdade, mas sem nenhum cambaleio, até o peito da mãe, e o peito secou, justo naquele instante. Chorou. Ardido pra diabo, porque nem leite pra calar, nem o colo do pai: picado de cobra a duas léguas, o rosto hirto mirando o sal derramado sobre a mancha de óleo pra candeia, tudo caído, espalhado em volta das duas cavidades negras no tornozelo esquerdo.
Hoje, o irmão não chora. Por enquanto, ela pensa, vendo que em alguns momentos ele se atrapalha de andar: ora tropeça, ora bambeia, arranha-se nos espinhos da beirada do caminho, arrasta os pés, atrasa o ritmo. Na primeira noite sem a mãe, em casa ainda, chorou o esperado, até dormir. Mas agora ela questiona, por dentro, se ele não está a se acriançar, pra trás, revertido de correr cronológico, feito a seu modo, a seu tempo, subisse contracorrente, enquanto descem rumo ao mar. Preste muita atenção, ela se diz.
Torna a visajar a concretude do que a mãe, contando, desenhava no ar: Barcos, filha, muitos barcos, como aquele na curva do rio, lembra? Só que lá muitos mais, maiores, e a derrama fresca no oceano, feito bacia de água salgada que do outro lado não tem borda, é pra sempre, e a mãe nem desenhava mais, enfeitiçada em renarrar a própria lembrança. Às vezes estendia os braços e balançava as mãos pra frente, indicando o sem fim de sal. Ambas sempre souberam, dentro de si, sem nem mesmo precisarem conversar a respeito, isso que cientistas só viriam a saber muito depois — ao menos com certeza (enquanto elas, sempre): memória e imaginação não são sequer irmãs, são a mesma. E a diferença, de uma ser pra trás e a outra pra diante, é apenas uma arbitrariedade, que aprendemos nunca nos lembramos quando, mas podemos abolir: só querer.
Talvez, pr´além disso, não soubessem muito na vida, a depender do juízo da palavra muito, mas esta clareza é já um horizonte. Avista, então, sobrepondo-se ao chão de raízes secas que esquadrinha à frente em nitidez exata, aquelas preciosidades de família reveladas em voz limpa sob a lamparina: o rio se despejando na bacia sem fim, velas espraiadas encasulando mastros da altura da carnaúba maior na margem trás da casa. E gente, muitas gentes. Lá conseguiriam o que comer. Vou cuidar de você, irmão — ela disse com firmeza, ao pegar na mão dele pra partirem, antes de clarear. Mas cuidar é uma imensidão.
A mãe nunca precisou dizer: Cuida dele. Usava sempre outras palavras, duas também: Teu irmão. Na porta de casa, com a foice na mão, uma olhadela pra mim e outra pra ele, nessa ordem, e depois um aceno afirmativo de cabeça: Teu irmão. Ela arrancando as couves enquanto eu o impedia de meter à boca tudo a seu alcance. Quando o vendaval fez desordem tamanha, da mãe ter que subir no telhado. Meu medo. A olhadela e: Teu irmão. Ele que haveria de se parecer com a gente, pois.
Também daquela vez: bem antes do sol subir. Só que mesmo já muito depois de tudo azul escuro escuro, apesar da lua, nem sinal da mãe voltar. O choro do pequeno: ela cuidou. Dormiu engasgada, acordou de estômago embrulhado. Esperou mais um dia: nada. O irmão olhava pra todos os lados, balbuciando: Mamã, ué, mamã. Na terceira manhã, o pegou pela mão, e com a trouxa de comida cruzada aos ombros magros, sentindo-se um dos barcos da boca da mãe, estradou pra leste. Foram até onde, antes, tinham chegado com a mãe: no corpo caído do pai. E nem sinal dela, agora.
Sentei-me numa pedra, abraçada a ele. Meu irmão. O céu uma bacia d’água sem bordas. O que sabia daquela estrada? Óleo, sal e morte. Mesmo que talvez, alguém que houvesse conhecido o pai, soubesse da mãe, melhor não. Um medo, muito. Mirou o pano ao peito: vela. Voltamos. Pelas horas que a terra chupava, inchava o vazio dos gestos que ela não alcançava: cuidar da plantação, como? Pescar, menos ainda. Então? Antes que não sobrasse nada, enrolou as últimas folhas, cozinhou o último aipim, arrumou nova trouxa, e puseram-se a descer o rio.
A tarde já quase finda. Deitar onde, quando a luz deitar? Por enquanto caminham: à frente, abaixo, junto às águas. Quanto mais longe forem, mais perto chegam, antes do não saber que é dormir. De trás de arbustos altos, afloram dos espinhos, subitamente: primeiro duas, e logo: mais quatro e mais uma que surge do meio das outras, hipnótica como se dançasse, pisando lustrosas sandálias de couro, mas é como tivesse os pés nus, a garota pensa, tanto parece irmanada ao chão, aos galhos, à luz se acobreando às suas costas. Param, todas, e o irmão.
Será que já? Essas muitas. Talvez não assim quanto esperasse, mas enfim: um princípio de chegança. Mais do que jamais vira, ora. Alivia-se, botando como um ovo dentro de si: uma felicidade, que ainda nem reconhece, mas já distende suas têmporas, panturrilhas, o pescoço em riste. Brota saliva de volta à boca. Afinal, sim, convence-se, porque muitas, e todas elas. Uma dádiva. Abre sorriso:
— Eu sou
Mas a voz corta a voz, do miolo dela no miolo das demais:
— Não importa. Importa ele. Ele é macho. Tu não é nada.
Pode também o rio morrer à praia, ou afogado à beira, depois de caminhar lonjuras de poeira e sol? É preciso pensar rápido. Logo elas, todas, se fazendo como o pai, qual o sentido? Oferta o que tem, na esperança de, pois os pés cansados não conseguem — a mais ali, na ponta da faca de fala e cerco — mapear outro combate àquele contrassenso lhe queimando o rosto.
— Posso ser como vocês. Sou. Posso ser.
— E pra quê? Boca a mais, não nos serve. Pelo contrário.
— E por que então não matam entre si? — cospe sem pensar, petulante, a morte nos lábios desde.
A mulher sorri, capciosa.
— Somos irmãs.
— Me façam irmã. Ou filha. Escrava até, posso ser.
— Não carece. Nem queremos. Tu é outra, e será sempre. Ele fará em nós filhos de nossa carne.
— É só uma criança!
— Crianças não andam de próprias pernas. Se arrastam, cambaleiam. Depois, são já macho ou fêmea. Não há crianças aqui: alguém se arrasta? Ninguém. Pois.
Teu irmão. No entanto, agora é outra a mirada sobre si. Outras. Teu irmão. Como o pai. Elas: como a mãe? Não. Nem podia ser como ele, nem como ela, nem como elas. Como ser?
— Tu pode ir. Vai chegar onde quer. Segue. Ele fica. Não cria medo, menina. Vamos cuidar dele.
Teu irmão. E tu?
— E eu…?
— Tu agora é livre. Cuidado. A liberdade é perigosa. Mas vai.
Livre. Rumo à foz. Onde um sonho lembrado a desabrochar sem bordas, todo velas e risco, desenhando o poente e o nascente, depois. Caminha, agora só: como sempre.
Nunca estivemos no Kansas
para nós
— Deixa os caras
ele diz, e não consigo pontuar sua fala, entre a ordem nítida e talvez algum medo. Levantado contra o sol, na praia que de muitos modos fermenta como intestinos, é difícil distinguir seus traços sobre o corpo largo, mesmo a poucos metros. Estamos sempre tão perto no verão desta cidade.
Antes: eu já notara o grupo de garotos, bebendo e falando alto, a zoeira preenchendo os abertos feito o calor, sem clemência. Pareciam querer desafiar a própria tarde, quixotes carregados de ímpetos nem tão cavalheirescos. Fermentavam também. A vários momentos, um bordão revinha às bocas, entre gestos inquietos: que eram filhos do sujeito. O presidente, aquele. Altos brados e risadas: Filhos dele, filhos do sujeito!
Eu oscilava entre mim mesmo e o redor. Como sempre, como tantos, talvez.
A dança caótica das moléculas do universo: perto, então, da molecada, chegam dois homens, com uma criança pequena, guarda-sol e o acaso mesclado à areia dos tornozelos. A zoeira se insinua, desenhando diante de si, daquelas moléculas de carne, ossos, músculos e pele, um alvo mais palpável que os átomos gasosos do céu azul. Provocam, tom acima a tom acima. Os homens a princípio não parecem perceber, entretidos consigo mesmos, a criança e sua língua estrangeira. A molecada insiste, chama-os assobiando, e quando olham: um requebra-se em trejeitos, emendando com socos batidos contra a palma da mão, imitações de chutes, rasteiras, antes de encerrar sua performance rumo aos tapinhas e risos dos companheiros, repetindo aos brados: Filho dele!
No mais das vezes, hostilidade não requer tradução. Os homens falam entre si, mais baixo do que faziam antes, e olham em volta: como quem busca. Tudo tão perto e tão veloz nesses verões. Feito aumentassem a aposta, alguns dos garotos se juntam em pé ao mímico da vez, já sem nenhum trejeito: saem da própria roda, encarando agora mais de perto aqueles desenhados em alvo pela fermentação dos ódios, dos desprezos, do escuro que em alguns de nós subsiste ao mais potente sol. Os queixos se erguem, sustentando rostos afiados em desafio.
Um deles posta-se resoluto frente ao grupo. Outros dois avançam, passos pequenos, meneando as cabeças pra cima e pra baixo. Talvez os homens, certamente a criança, não entendam a frase com que todos nesta cidade legendariam o gesto: qual foi?, mas o gesto em si dispensa legendas em qualquer língua. Então:
— Deixa os caras
ele diz, por sobre o zumbido da praia fermentando. Em outro con-texto eu provavelmente tivesse desviado o pensamento, à deriva (: preciso fazer feira, ou: que horas são?, ou: e aquela vez em que Seu esperma tem uma cor estranha / É o remédio pra vermes, ou: etc. etc.), mas já não oscilo. Atento. É preciso, às vezes. Ele também, eu sei, gostaria de apenas submergir e abafar as vozes dessa tanta gente espalhada sobre a areia, a terra e o asfalto do mundo. Mas é preciso estar atento. Forte.
(Lembro lutas que não vivi: a mesma praia, anos antes, valentões espancando um rapaz aos urros de Viadinho é daqui pra lá, e ninguém se levantou pra defender o quase menino, não deixar aquela linha urrada a vozes de espuma rábica cicatrizar-se; Stonewall, outra latitude, tempo ainda mais pretérito, agredidas em levante contra não só braços e pernas e cuspe mas cassetetes e armas e fardas e a força que demos às polícias de toda parte desde antes de nascermos, como um pacto que não fizemos, mas espera-se que obedeçamos. É preciso lembrar. Atentos.)
A porra do tempo alongado, esticado feito fronteira: o que há de haver daqui, deste momento agora, pra lá, pro depois? A espera em si mesma como observando do alto: se a linha do tempo vai explodir ou afrouxar, (re)acomodando-se nas areias quentes. O instante (mais que os homens) feito lâmina a decidir se arremete contra as carnes ou retorna à bainha. O tempo fermentando.
E entorna. A porrada come: levanto-me e corro. Não pra longe, mas pro dentro da confusão. Nunca estivemos no Kansas, Dorothy.