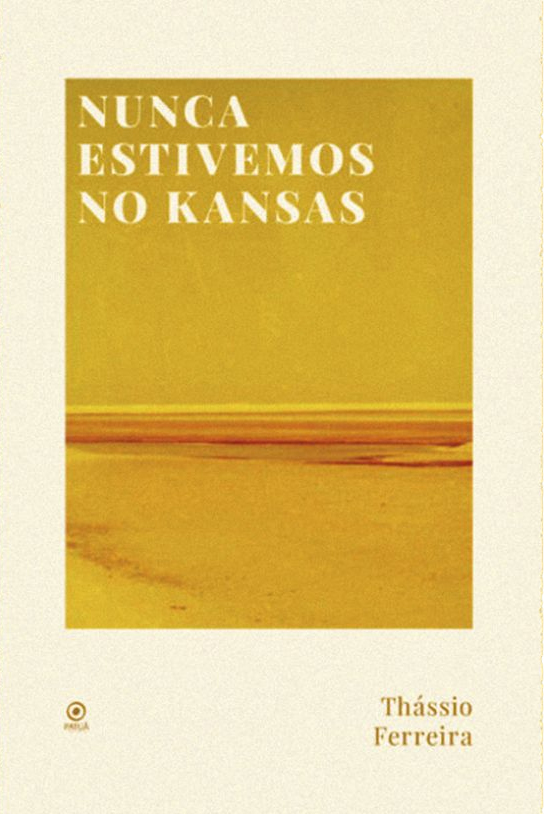Contos Quarentenários (ou Prosas Pandêmicas)
para Mariene e 585 mil mortos, in memoriam
1 – Baratas (ou Prenúncios da Peste)
No duodécimo dia, vieram as baratas. Depois de ter faxinado a casa, almoçado, assistido vídeos no youtube e revisado alguns planos de aula que desejava atualizar desde antes da pandemia, adiando sempre, estava deitada na cama: acessando pelo celular, alternadamente, twitter, instagram, whatsapp, conferindo notícias, memes, frases motivacionais, campanhas de combate ao vírus, as últimas insanidades da família presidencial, fotos de amigas e desconhecidas, mensagens variadas et cetera et cetera. Um dia normal, dentro do que se havia tornado um dia normal.
Entrou voando pela porta e se agarrou à cortina. Marrom, gorda, de antenas longas. Uma barata no vigésimo andar. Não era a primeira vez, mas era raridade. Antes de me levantar pra matá-la, resolvi filmar e compartilhar. Mirei a câmera do celular, apertei o botão “sem as mãos” e narrei, enquanto dava zoom deslizando os dedos pela tela: Pronto, era só o que faltava, uma barata querendo me fazer companhia na quarentena. Pausa. Que bonita, ela — acrescentei. De certa forma, sim, era bonita, por que não? Outra pausa. Bom, vou lá matar — finalizei. Depois de publicar o vídeo, fui até a sala pegar o pé esquerdo do chinelo, que encaixa melhor na mão esquerda.
Um safanão rápido e caiu de pernas pro ar no chão de taco. Viva ainda, mexendo um pouco as asas e as antenas. Olhei-a de perto. Não, não fiz a G.H., pensando em comê-la. Apenas, talvez, a morte andasse a adquirir novos significados esses dias. Testemunhei enquanto os tremores de membros cessavam. Suspirei. Então novamente o celular e agora uma foto, com a legenda minha solidariedade a quem está isolade na quarentena e não mata barata sozinhe. força aê e uma carinha rindo e chorando ao mesmo tempo.
Fui à cozinha pegar uma sacola de mercado. Recolhi o corpo com a mão protegida pelo plástico, parecido a quem recolhe as fezes de um cão na calçada, e a comparação me remeteu ao vazio das ruas, três dias antes, quando saí pela primeira vez desde o início do isolamento, pra fazer compras. Na pracinha do bairro, um gato saltou do meio-fio na direção de quatro ou cinco pombos, com as garras estendidas ao ar. Aterrissou de patas vazias, coitado. Há quanto tempo ninguém lhe vinha dar comida?
Suspirei novamente, pensando que meu rosto naquele momento deveria ter uma expressão desolada semelhante à do gato. Fui até a janela e abri a cortina e as folhas de vidro pra espiar a noite, escura como minhas mãos sobre o parapeito. Ao longe, embora não pudesse vê-lo, eu sabia que o Cristo abençoava o lado de lá da cidade, de costas pra cá. Peguei o celular de novo. No insta, um amigo havia respondido meus posts dizendo que de tarde a casa fora invadida por dúzia e meia delas. Comoção na família, a mãe gritando, um vizinho quebrando a distância em acudimento aos berros, juntando-se à operação de guerra pra exterminar as invasoras. Pensei nos ratos surgindo das profundezas de Oran pra morrerem ao ar livre no livro de Camus, e respondi, entre sarcástica e sombria: Prenúncios da peste.
Mal tinha enviado a resposta e: outra mensagem. Uma prima, contando que na Vila Militar uma horda de cascudas voadoras causara verdadeiro pânico entre as mulheres, obrigando os oficiais de folga a se desdobrarem de casa em casa matando dezenas de insetos. Franzi o cenho. No meu cérebro começava a se formar um intrincado jogo de ligue-os-pontos: as baratas, o Cristo, A Peste de Camus, a Bíblia e suas dez pragas sobre o Egito — que, segundo cientistas, podem ter ocorrido de fato, causadas pela soma de uma grande seca do Nilo e uma enorme erupção do vulcão Thera (eu lera numa revista) — o gato faminto, macacos invadindo cidades tailandesas — famintos também, sem os turistas — e…. e o que mais? Os pontos soletrando um desenho inacabado que eu era incapaz de decifrar. O que mais nos aguardava?
Busquei no google notícias sobre outras infestações naquele dia. Nada. Recorri ao twitter, as pessoas postam sobre tudo no twitter. Tampouco. Por via das dúvidas, peguei no armário do banheiro a bisnaga de gel mata-baratas, verifiquei a validade e reapliquei por todo o apartamento, em doses três vezes maiores que a recomendada.
Antes de dormir, pensei na mãe: odiava baratas, lia a Bíblia com fervor e não gostava de ficar dentro de casa. Se estivesse viva, teria setenta e três. Hipertensa, diabética. Altíssimo risco. Pela primeira vez desde o acidente, não amaldiçoei Deus ao lembrar dela.
2 — Enquanto o sol
Ele era forte, saudável. Mas era melhor não arriscar. Havia casos. Jovens, atletas, pessoas sem nenhuma comorbidade e que ainda assim…. Sem falar na situação do sistema de saúde: nenhuma melhora desde o colapso. Uma eventual internação já lhe causava pânico, mesmo que sobrevivesse. Depois de tantas semanas, porém, ansiava por alguma forma de minimizar o isolamento extremo que o dinheiro lhe permitia.
Muitos amigos médicos, escolheu um infectologista. Sim, era razoável acordar antes de clarear para correr ao ar livre, quando não houvesse quase ninguém na rua. Descendo e subindo pelas escadas, saindo e voltando pelo portão da garagem, acionado pelo porteiro. Sem encostar em nada. Longe de todos. O vírus, segundo estudos, poderia permanecer em suspensão no ar por até três horas, expelido numa tosse, um espirro. Quem andaria a tossir por aí de madrugada?
Decidiu se levantar às cinco, correr em jejum pra fortalecer o sistema respiratório e retornar com o dia despontando. Novos hábitos — pensou. Bermuda abaixo dos joelhos e camisa de mangas compridas de um tecido que facilita o suor a evaporar e diminui a sensação de calor. Meias de cano alto. Os tênis já estavam no corredor do prédio: usava-os nos casos de absoluta necessidade e nunca os trazia para dentro.
Após meia hora de corrida, retornou ofegante, satisfeito. Subiu as escadas. Defronte à porta, meteu a mão no bolso para pegar a chave. Que não estava lá. Revirou o fundo: furado. Caíra em algum ponto do caminho, sem que percebesse. Momentaneou um calafrio, e logo o instinto desabalado: desceu as escadas novamente, o mais rápido que conseguiu, e voltou à rua.
Recapitulou mentalmente o trajeto da corrida, aferrando-se à esperança de encontrar o pequeno chaveiro prateado antes que alguém o chutasse para um bueiro, ou um carro passasse e o pneu, resvalando, o atirasse em direção imprevisível, ou qualquer outro movimento dos seres e das coisas lhe impedisse de voltar para casa, tomar banho, proteger-se.
Caminhou teso, como sobre invisível fio de faca: entre a pressa de encontrar a maldita chave antes que os outros, os possíveis contaminados, acordassem, a passar ao seu lado, respirando, propagando terror microscópico; e a lentidão necessária para esquadrinhar meticulosamente todo o percurso. Suava ainda mais que durante o exercício, apavorando-se com a possibilidade do vírus grudar mais facilmente nas roupas pegajosas. Com dificuldade controlava a tensão de vigiar as próprias mãos, para impedir-lhes gestos automáticos de nervosismo: passar os dedos por entre o cabelo, ou as palmas sobre os olhos, sobre a boca. Não!
Inútil. Desde a calçada em frente ao prédio até o ponto mais longe a que tinha chegado, nem sinal da chave. O sol já começava a romper sobre o mar, destrancando o dia. Mirou ao redor na busca de alguma pista, uma salvação. No gramado onde começa o molhe de pedras, um homem de roupas surradas remexia objetos espalhados ao lado de um grande saco de ráfia encardido. A medo, aproximou-se um pouco, e percebeu mais nitidamente sua aparência suja, a barba amarelada, e as inutilidades às quais o estranho se dedicava.
— Ei!
O homem se virou.
— Você viu uma chave aqui no chão?
O outro levantou a mão esquerda em concha atrás da orelha, inclinando um pouco a cabeça de cabelos desgrenhados, em diagonal. Não tinha escutado. Ou está se fazendo de besta — resmungou a si mesmo, irritado, os nervos retorcendo-se. Repetiu a pergunta, mais alto. De novo a mão em concha, acompanhada agora de um meneio de cabeça, indicando que o homem ainda não entendia.
Ele quer que eu chegue mais perto. Por quê? Pode querer me assaltar. Ou pior, pode estar infectado. Hesitou, pés chumbados no asfalto. Mas o desespero era maior. Caminhou até o outro e perguntou-lhe outra vez se tinha visto uma chave no chão, com voz metálica, tensa. O homem respondeu meneando novamente a cabeça, com o lábio inferior projetado para frente, ao mesmo tempo em que olhava à volta, numa tentativa de ajudá-lo a encontrar o que buscava.
Mas por que ele não responde? Por que não fala? — a irritação se metamorfoseando em raiva. Ele viu a chave. Só pode ter visto. Aposto que pegou do chão quando me percebeu procurando alguma coisa. Vai me seguir até em casa, talvez. Ou… não sei. Deu mais um passo à frente, a raiva turvando-lhe a lógica: aproximava-se, e queria sim que o outro falasse! Falasse, expelindo gotículas inevitáveis de saliva. Queria agora confrontar aquele homem e fazê-lo admitir estar com a chave que lhe pertencia, e que a devolvesse!
— Viu sim! Eu sei que você encontrou a minha chave!
O outro olhou-o sem malícia e levantou as sobrancelhas, repuxando para baixo os cantos da boca e encolhendo um pouco os ombros, como quem pedisse desculpas.
Tá de sacanagem comigo, esse filho da puta! Cerrou o punho e desferiu o soco. O homem caiu e levantou os braços, mãos abertas tentando defender o rosto. Ele, cego. Cão raivoso. Alcançou o que parecia um pedaço de cabo de vassoura, dentre os cacarecos em torno do homem caído, e golpeou-lhe uma, duas, três, quatro vezes. Na cabeça. O outro, então: inerte, o rosto deformado brotando sangue. Largou o pedaço de pau e pôs-se a procurar a chave em meio ao lixo. Abriu e despejou no chão o saco de ráfia. Nada. Com olhos injetados e nojo, revirou as roupas encardidas. Também não.
Desabou sentado sobre a grama, sem concatenar mais qualquer raciocínio. O sol já descolara suas bordas da linha do horizonte.
3 — Máquinas de moer
Vou subir essa porra!
E subi.
A cabeça dói, as pernas doem, o braço esquerdo também. A luz do sol dói. Os lábios ressecados doem fissuras sobre as quais burra e instintivamente passo a língua pastosa, fazendo-as arder mais salgadas. Lanhos nos cotovelos e nas mãos se acendem junto, ardendo também. O peito dói, feito es(ma)garçado. Eu não devia ter entornado aquela meia garrafa de rum.
Ou talvez não devesse ter emendado a meia garrafa, na geladeira desde antes, desde alguma festa inofensiva da época em que havia festas e nos reuníamos pra celebrar e esquecer, com outra, fechada no armário, acreditando burra e instintivamente (burro, burro, burro! meus instintos são todos burros, caralho?) que a coca, o limão e o açúcar dariam conta.
O concreto da calçada queima embaixo de mim. Encosto a cabeça na parede e engulo com dificuldade a pouca saliva, grossa, amarga: lava resfriada. O penúltimo dedo do pé direito, antes do mindinho, lateja como se quisesse romper a pele, osso pulsando feito um músculo, quebrado, será? Nunca quebrei nenhum osso, nunca bebi tanto, nunca não sei.
Eu não imaginava que seria tão difícil. E olha que poderia ser bem pior, é minha casa, afinal, eu e meus confortos menos esse que não imaginava tão necessário: sair à rua — e abro os olhos, pra tentar entender onde estou. Aqui. Acho que sim. No alto. No chão.
Corpo sujo, grãos de asfalto e sei lá quê mais entranhados no cabelo, pesando nas pálpebras, arranhando a pele do rosto enquanto faço caretas de dor e me engasgo com o choro que não sai. Como eu saio daqui?
Eu não aguentava mais. E não aguentava mais me sentir um merda por não aguentar tão pouco: minha própria vidinha status quo em versão concentrada, trancafiado, pedindo comida entregue por gente mais fodida que eu e que aguentava, e tentando expiar a culpa em gorjetas e — porra!, eu só queria que esse sol fosse embora com essa ardência maldita me fazendo lembrar dessa merda toda e…
Tentar esquecer é o jeito mais seguro de lembrar, eu lembro que pensei exatamente isso quando já tava na rua vazia, feito zumbi, porque uma garrafa e meia de rum e quatro latas de cerveja não foram suficientes, nem pra esquecer nem pra aguentar. E de novo eu tento esquecer e lembro, e mesmo aos pedaços latejantes, borrados, é quase como se agora eu quisesse lembrar, e sei no olho calmo do rodopio, que a vista de novo fechada não abranda, que hoje há mais pra ser lembrado, embaixo deste sol sem disfarces, do que havia ontem quando eu saí por aí a (tentar) esquecer tanta coisa. Quantas viaturas eram? Quantos PMs?
Como eu cheguei neste beco? Eu queria ver o céu. Desaguentar só um pouquinho, alguns minutos, alguns passos, quanto tempo será que dancei torto pelas ruas, a ladeira, mas pera, antes o tombo, eu lembro!, pelo menos um tombo, sim, outros?, e uma garrafa nas mãos, outra?, o céu, no fim das contas eu mal lembro do céu, e tudo lateja mais doído se eu tento lembrar do que se tento esquecer.
O choro ainda engasgado. Água. Um banho. Um cigarro talvez, tudo isso eu queria, agora, porque o céu agora eu não quero, parece pequeno pra tanto sol como ontem tudo parecia pequeno, o apartamento, pequeno demais, e meu coração apequenado, covarde, e bem de cara pra ladeira eu achei que lá de cima o recorte do céu entre os prédios podia ser menos pequeno, eu pensei isso, menos pequeno, a gente pensa de uns jeitos estranhos quando tá bêbado e não aguenta mais, e vou subir essa porra!, foi isso que eu pensei. E subi.
Mas não lembro da porra do céu. A sensação estranha de que os objetos estavam parados como nunca e ao mesmo tempo mareando e emborcando a cada passo (como agora enquanto lembro e latejo de olhos fechados), os pés trançando, a pele rasgando contra o chapisco, os tropeções prenunciando um tombo capaz de me quebrar todo e…
Então. Sons confusos, carne contra carne, estalos, coturnos contra carne, choro, carne contra concreto, gritos abafados, e vultos, as fardas, o menino caído e agora, dentro do preto dos olhos, pra fugir da brancura do dia, vejo (de novo) feito uma espiral bicolor puxando meu olhar como fosse uma lente, girando pra ajustar o foco: do preto da noite pra dentro do branco da luz dos faróis e daí pro miolo daquela covardia onde o corpo preto dele se contraía todo em volta do branco dos próprios olhos, com a revolta e o terror luzindo dentro do preto das íris.
No fundo preto daquelas íris que me olham congeladas em meio à espiral girando no ventre desse ontem, o reflexo: o ângulo em que, além de ser visto, aquele olhar me vê, é isto? É isto. E, pra além da revolta e do terror, as pupilas dilatando um nítido grito seco de socorro, como foguetes lançados por náufragos des-esperando sobreviver. Aperto com força as pálpebras e movo os lábios sob o sol na esperança (burra, burra, burras como os instintos?) de que esse esgar consiga espremer dos músculos a memória, uma resposta, mas: não.
Então. O quê?
O esquecimento pode ser tanto um tipo de benção quanto de barbárie.
Será que eu…? Quero acreditar que sim, e por isso acredito, pra não ser um merda, mesmo talvez não acreditando e não sabendo de onde afinal vieram esses cortes, essas pontadas, esse pedaço de dente que, numa passada de língua, justo agora cai, quica num dente de baixo e vai parar na goela. Engulo o caco por reflexo (malditos instintos burros), numa nova esperança de que ao menos ele desengasgue o choro. Mas: não.
O tempo rasgado entre ontem e agora, e minha boca muda. O sol dardeja chamas a mais de ardência, feito dedos me estapeando a bochecha pra acordar, e desisto (covarde, covarde!). Desvio a atenção que ainda alcanço conjurar, em meio à sede e às dores, pra outra indagação qualquer (inútil, inútil, seu merda!): quando será que lamberam na superfície solar as labaredas que me ardem nesse exato instante? — só pra pensar em outra coisa.
Mas abandono a pergunta com a mesma rendição que no momentésimo anterior me levara a ela. Tento me ajeitar melhor no chão, como um ensaio de levantar, e o corpo inteiro dói ao mesmo tempo, carne ou massa moída que pra reorganizar vou precisar de toda concentração, sem memórias além da motora. Antes de me render (de novo), penso: que em meio a esta outra enorme máquina da morte, invisível, solta pelo ar, máquinas humanas de moer gente — em becos e à luz do dia, às nossas vistas, e muito à minha sim, máquinas com nome e sobrenome e tanto ternos quanto fardas pra moer pretos e moer pobres e putas e párias e quem ousar (e será que eu…? porra!) e moer quase todas as pessoas pra caberem nas muitas máquinas mais de moer e matar a todos nós com seus muitos dentes que é preciso enfrentar, eu sei, eu me digo, eu me disse, talvez?, eu me digo — essas máquinas também seguem soltas e não descansam. Ao menos estou vivo, e o silêncio destila dúvidas sobre o menino (será que..?), sobre mim, moendo a merda por dentro e… o choro sai.
4 — Por quê?
O primeiro óbito fora em doze de março. Como saísse de casa quase todos os dias, cruzando alguns bairros até o hospital, notara que a cidade parecia funcionar agora de modo espasmódico. Feito movimentos peristálticos, costumava pensar, tanto se entranhara nela o jargão médico. Como um rodízio de pessoas nas ruas, em vez do rodízio de carros que havia antes do deserto, quando os veículos entupiam as marginais e o debate era sobre a velocidade máxima permitida. Embora ainda vigorasse formalmente, porque talvez ajudasse a manter as pessoas em casa, não havia mais fiscalização sobre o rodízio veicular. O que ainda havia, afinal?
Sem que ninguém o houvesse instituído, se estabelecera um rodízio de bairros: numa terça-feira, os pequenos comércios do Jardim da Glória reabriam as portas, a medo, chapas de aço fixadas ao chão e ao teto, emoldurando frestas por onde se trocar produtos entre mãos assustadas; ciclistas e corredores em postura envergonhada, ou desafiante. No dia seguinte, o Jardim voltava ao silêncio, e o fluxo de gentes se transferia à Mooca: mulheres apressadas apertando bolsas contra o corpo, homens fumando a passos lentos, todos evitando passar perto uns dos outros; esparsos alto-falantes anunciando promoções desesperançadas. Na quinta, era a vez do Belenzinho. Depois, do Tatuapé. Até a Vila Matilde, onde trabalhava. Seria assim também nas outras partes de São Paulo? Evitava assistir às notícias.
A cada oito ou dez dias, mais ou menos, as ruas se pontilhavam de mais pessoas ao mesmo tempo. Talvez fosse a necessidade de algo como um fim de semana, um condicionamento mental mais forte que as sirenes, as recomendações, o medo. Nesses dias, ela agia (nos outros também; porém nesses: com mais voracidade).
Era um contrassenso, não negava. Além de horrendamente cruel. Não havia justiça ali (nem mesmo a ilusão de). Mas quem disse que a punição obedece à justiça? Tratava-se de punição, era isso. Era preciso punir, indiscriminadamente. Como o próprio vírus. Pois, senão, qual o sentido? Precisava haver um sentido. As tantas mortes, bocas abertas sufocando em pleno ar como peixes fora d’água, cadáveres azulados empilhando-se em salas fechadas, aguardando remoção, dias a fio sem dormir, a pele do rosto lanhada pelas bordas da máscara, os pesadelos, quando foi que tudo se condensou naquele caroço na garganta, ou talvez nalgum canto do neocórtex cerebral, esmagando a racionalidade com aquela necessidade de um significado?
Mãos e pernas fracas de cansaço sob o chuveiro. O cheiro de álcool. Os pesadelos. Os corpos. O cheiro de morte. E então, do atordoamento, martelando agudo por quê? por quê? por quê?, na quinta ou sexta crise de choro misturado a comprimidos e uísque, os estilhaços farpados de uma resposta sem sentido porque nada mais lhe fazia sentido: porque é preciso punir. Purificar. Cegamente. Não pela vontade de qualquer deus, em que nunca acreditara, mas porque…. Porque sim. Qualquer outra coisa, qualquer outra força. A força do ilógico, do gume da faca, do que fere mais fundo até a dormência. E do formigamento da dormência, para acalmar o tremor das mãos e não deixar escapar das palmas em carne viva aquele sentido recém-agarrado, decidiu: ajudaria o vírus, então. Era preciso. Dormiu.
No dia seguinte, levou para o hospital sacolas de mercado e os menores tupperwares que tinha na cozinha. No caminho de volta comprou quentinhas e talheres descartáveis. Embora inconclusivos, estudos apontavam que o vírus poderia permanecer vivo por até três dias em superfícies plásticas e metálicas.
Passou a coletar, meticulosamente, fluidos de pacientes e cadáveres. Não era difícil, em meio à sobrecarga geral, ficar sozinha com algum diagnosticado e tirar-lhe do nariz ou das gengivas um tanto de secreção. Para novos testes. Pesquisas — lhes dizia, guardando o material num potinho. Nem mesmo as salas para onde se levavam os mortos eram vigiadas. Claro que não. Quem entraria ali sem precisar? Ela. O corpo rijo em atenção muito concentrada para expor-se o mínimo possível, mas suportando o risco feito uma fome, porque era preciso, porque a punição não podia esperar: recolhia das cabeças inertes muco e saliva em quantidade ainda maior do que fazia dos vivos, sem ter que lhes dar satisfação. Às vezes esfregava sacolinhas de compras diretamente dentro das bocas, com as mãos enluvadas, o tupperware aguardando no bolso.
Nem por isso deixava de cumprir suas funções no hospital. Era preciso punir, sim, mas também salvar. Assim a purificação: alguns sobreviveriam, outros… Este o significado. No caminho de casa, espalhava as secreções aqui e acolá: discretamente derramando o caldo quase transparente nas barras de um carrinho de mercado, ou sobre frascos de xampu e tubos de pasta de dente no corredor vazio de uma farmácia, ou nas maçanetas dos vizinhos de prédio — as câmeras haviam sido desligadas por contenção de custos. Às vezes, antes do trabalho, distribuía na rua quentinhas contaminadas, com talheres contaminados, em sacolinhas contaminadas, confiante na sobrevida dos vírus colhidos na véspera.
Mas era naqueles esquisitos fins de semana, caídos em qualquer dia, que agia com mais afinco. Ao perceber o movimento intenso de pessoas na grande avenida visível do quarto, traçava o plano: quando não tinha plantão, juntava todo o material guardado e saía às ruas do bairro, transida de vontade cega. Deixava sacolas plásticas em prateleiras de biscoito, alguém haveria de retirá-las dali (com mãos nuas — pensava — que seja com mãos nuas!). Pedia para usar o banheiro de lanchonetes e restaurantes abertos — em vez de servindo por trás de mesas empilhadas à porta como trincheiras — e lambuzava torneiras e caixas de papel toalha pregadas à parede, mirando justo quem acabasse de lavar as mãos, julgando-se seguro para tocar o próprio rosto, de seus filhos, seus pais de pele flácida levados para um banho de sol. Chegava mesmo a oferecer às pessoas, quando a ocasião se apresentava, máscaras cuidadosamente contaminadas em casa, com seu melhor sorriso e um discurso de Temos que cuidar uns dos outros.
Se precisasse comparecer ao hospital, redobrava a coleta de fluidos, inventando um mal-estar ou qualquer outra desculpa depois de poucas horas, para ir se dedicar à missão autoimposta: punir, purificar. Compensava as saídas mais cedo aparecendo voluntariamente em outras folgas, quando achasse que não tinha morte suficiente guardada na geladeira. Levava marmitas frias (para o calor dos alimentos não destruir os vírus a serem derramados, como um molho), comovendo os colegas ao dizer que as distribuiria na volta para casa. E tornava às ruas, até anoitecer.
Nessas noites, dormia sem comprimidos nem uísque.
— Publicados em 04, 05 e 07/2020 na Revista Vício Velho, e posteriormente no livro Nunca estivemos no Kansas.