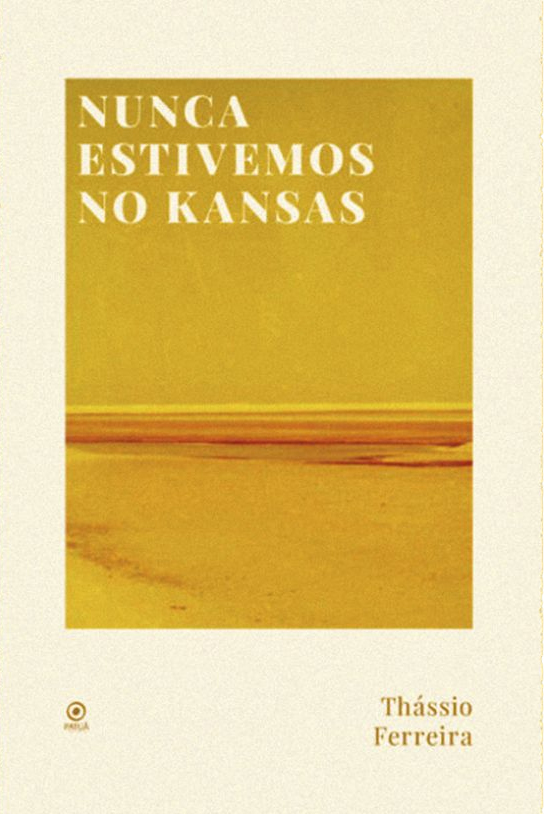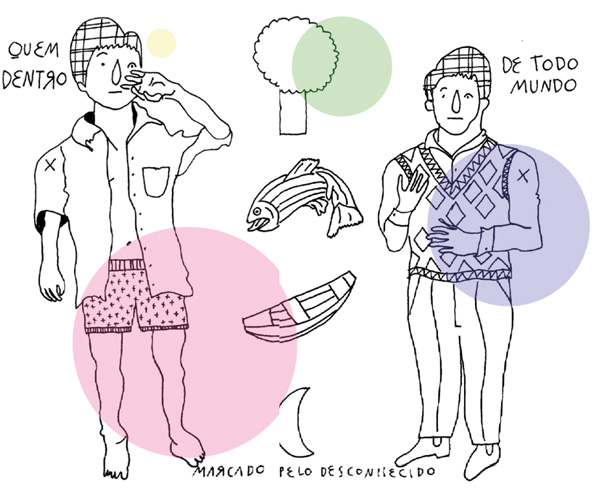A eternidade e seu epílogo
— Publicado na Revista Ponto n° 15 (SESI-SP).
Fazia um frio sutil na sala de espetáculos. Um frio que, entre os espaços da música, era como um retinir metálico, um badalar de sinos, só que esférico. A plateia, imersa em breu e silêncio, era toda olhos e ouvidos atentos e pele arrepiada ao toque daquele frio esférico a preencher os hiatos da melodia feito uma contravoz distante, em tom menor. E então.
A música não se interrompeu, não reprimiu qualquer dissonância, nem prendeu sua respiração de sons, quando. Aliás, o que houve nem mesmo se deu no intervalo minúsculo entre um retinir e outro. Não, foi bem ao meio de uma das ritmadas notas que enchiam a imensidão negra do teatro. Quase como se fizesse parte da sequência de movimentos exatos desenrolando-se no palco. Quase como se não fosse um acidente.
Mais que acidente. Pequena tragédia, ferida aberta, em carne lacerada e sangue doído, numa das pétalas daquela rosa a se desabrochar que era o espetáculo de dança, deslizando sobre o tablado seco e ao mesmo tempo úmido feito uma campina depois da chuva. Quase uma lâmina a seccionar milimetricamente um sorriso, guilhotina, ato cru de impiedade, inexplicado, a bailarina caiu.
Do alto do ar, onde voava lançada pelo parceiro tão esguio e forte quanto ela, tão ensaiado e capaz quanto ela, do alto do movimento agudo em meio à nota aguda, do alto do frio que inconscientemente todos acreditávamos não fosse permitir que nada escorregasse um palmo além do necessário, do alto da ausência dolorosa e impressentida de onde deveriam estar as mãos que não estavam, de onde ambos achavam que estariam, de onde todos queríamos que estivessem, no instante que precedeu a ausência; ou talvez do alto do espaço deslocado onde ela não deveria estar, quem sabe tão liberta em seu voo –– como nunca antes –– que tivesse flutuado para fora do alcance firme e lógico de seu par, cegamente guiada por uma ousadia inata, toda sua e toda entranhada em seu corpo desde sempre, desde o primeiro engatinhar que foi seu primeiro passo de dança, do alto mais alto, a bailarina caiu, sem perdão.
Não se ouviu o baque do corpo teso ao bater o chão. Por disciplina, nem ela nem o bailarino que não a segurara precisaram sufocar nenhum grito, o qual simplesmente não se formara, ambos inteiramente matéria em silêncio na cena nua. A música não silenciou. Nenhum dos outros bailarinos, talvez sete ou oito, estancou seus movimentos, nem alongou ou desacelerou qualquer gesto, na tentativa de recuperar, como quem se esforça em rejuntar estilhaços de um cristal partido, a harmonia rompida por aquela queda sem disfarce. O frio prosseguiu, sutil. O tempo, ao contrário do que se diz, não parou.
Mas dentro daquele instante –– não tivesse ele existido com a intensidade enorme dos cataclismos, alguém poderia dizer ter parecido não existir, tão breve em seu percurso do ar ao chão –– dentro daquele instante germinou-se uma eternidade. E a eternidade varreu a plateia eletrizando-nos como se cada um de nós fosse uma partícula da mesma corrente. Eletrodos, conduítes, da primeira à última fila, todos nós. Circuito fechado. Nós presenciáramos o desastre. Nós, que não esperávamos nada daquela sorte, tocados pelo desastre como se ele tangesse nossas espinhas feito a corda de um violino. Nervos em rede, entrelaçados, fios a constituírem-na, viva, pulsante, reconhecível enfim (mas não compreensível, isto nunca!), porque éramos todos inocentes a sentir dor, e a dor dos inocentes é a própria eternidade.
E como dentro da eternidade, dentro da dor, cabem espantos incalculáveis, cada um sentiu em sua carne, em seus nervos conectados, a dor do outro, as infinitudes da dor do outro. De muitos outros, todos os outros, na multidão sentada a ouvir a música que não se interrompera.
Dentro daquela eternidade que não era cronológica, que não se sucedia nem permanecia estancada, mas era toda simultaneidade, a leve náusea que subiu à garganta da senhora da poltrona A5. Como um engasgo, com o qual tínhamos que lidar. Dentro daquela eternidade, como dentro da noite uma noite dentro do peito, a angústia da moça da terceira fila: a custo contem um gemido, sacrificando a empatia que é sua grande qualidade, controlando a vontade de se levantar e acorrer ao palco, sem todavia impedir sua mão de gelar no braço da poltrona, transmitindo essa angústia ao namorado, que pouco se dera conta da queda — absorto em outro ponto do palco — e lhe aperta a mão com força porque prefere não se virar e correr o risco enorme, em pleno sábado à noite, de se deparar com algo maior que suas forças, um rosto tão lindo e tão amado não hesitando em demonstrar não amá-lo de volta, com a sinceridade dos rostos pegos desprevenidos.
Dentro da eternidade toda tumultos, o espanto a se espalhar gordo — antes mesmo de compreender sua própria causa — dentro da carne tão pouca daquele jovem na quarta fila, que aspirava secretamente reunir um dia a coragem de ser bailarino também, mas que por enquanto só reunia espantos pela vida, sem nem chegar a compreendê-los. Espanto de quem descobre, com o horror de toda primeira vez — porque cada descoberta das imensuráveis possibilidades da vida traz horror mas também volúpia: que os bailarinos erram, as bailarinas caem, a beleza é frágil, o salto é grande, e haverá sim joelhos quebrados e vergonha e medo e, enfim, se é mortal; esse espanto convulsionado de compreensões que de tão novas eram ainda incompreensíveis, nós todos o sentimos, com os mesmos espasmos musculares do jovem franzino que desejava dançar e agora ainda mais, porém quase querendo não querê-lo, porque descobriu o medo e a potência inebriantes contidos no desejo.
Naquela eternidade compartilhada, sem paz, sem remanso, nem regaço, a dor na córnea da mulher solitária feito um arrancão, como se lhe extraíssem o pulmão esquerdo à força de presenciar aquela queda, impossível queda, inaceitável. Ela toda tão metódica, tudo tão necessariamente, inafastavelmente metódico, porque assim mantinha a sanidade contra o mundo de acasos e improvisos, agarrando-se e refestelando-se no que de menos imprevisto podia encontrar, as comidas industrializadas congeladas assépticas, as roupas de tecido sintético que não amarrotava, as traduções que lhe davam o ganho sem que as palavras a serem traduzidas oferecessem resistência, as apresentações de dança que eram a celebração do exato, sem espaço para a invenção nem para o erro, e ali então aquela queda, como um soco, e era também à nossa boca gelada que vinha o sangue agredido e estúpido daquela mulher solitária e medíocre, e tão contundida e tão coitada que do contato com sua dor ecoávamos todos uma dó imensa que expandia a eternidade: dores e penas e afagos a ressoarem e se multiplicarem aproveitando-se da acústica da sala como nenhuma partitura jamais fizera.
No centro geográfico da eternidade preenchendo o teatro como a areia de uma ampulheta infinita, a senhora vestida com a ostentação dos cruéis. Vistosa. Impávida. Só os que não têm compaixão ostentam roupas (e maquiagem, e joias, e carros, e salas de estar, de jantar e de chá) como uniformes, como medalhas por sua dureza que lhes permite caminhar pelo mundo sem dobrar-se ao peso da iniquidade que vestem. No centro da sala de espetáculos, no melhor assento que o dinheiro poderia comprar, executiva de um grande banco, ela transmite, pela rede neural que toma o ambiente, sua impassibilidade, acostumada a ver os outros caírem, a ver os outros errarem, saltos que não se completam, mãos que não acolhem, esgarçamentos. Impávida. E triste, ligeiramente, quase imperceptivelmente doída, lá ao fundo, não da queda, não de tantos desastres que já presenciara, mas de sua própria incapacidade em se solidarizar. Mas ao mesmo tempo em que emana essa frieza de esfinge, de montanha que mira o lago e jamais se abala com a neve que a recobre, e nas entrelinhas essa dorzinha, no subtexto de si mesma, tão estranha a sua personalidade que mal chega a percebê-la, a dama de chumbo também recebe –– com a brutalidade de um vagalhão a nos fazer vomitar sal e espuma –– a piedade nossa, dos outros, por aquela outra senhora, bem ao seu lado!, vizinha na segunda ou talvez terceira melhor poltrona do teatro, arrancada para sempre de seu mundo sem erro. Para sempre, por toda a eternidade.
Na fila H, o grupo de adolescentes — já antes tão conectados entre si, meninos e meninas e hormônios e transgressões de fronteiras e identidades e regras — e o susto muito simples, a dor muito natural, a inquietação muito pura de flagrarem um inusitado, para deleite e pasmo de suas retinas ainda desacostumadas com os solavancos do mundo. Para suas pupilas aprendizes, a novidade é apenas uma naturalidade a mais, desconhecida. Três rapazes, quatro garotas, desnudos de medo ou julgamento, espraiando pelo ar frio a sensação muito límpida e muito ingênua, toda descomplicada e quase inexplicável, de doer ao toque do mundo que se altera, e absorver na carnatura de sua própria existência essa mutação, como um alimento que se ingere, como os seios crescendo, a voz engrossando, como uma eternidade que se vivencia sem interrogações. Os inocentes dentre os inocentes!
E logo atrás, porque dentro da eternidade cabem todas as contradições, a antítese: o velho senhor com olhos impacientes de quem busca sempre o inesperado, sôfrego, doendo a cada minuto — há tantos anos! — em que a vida não lhe traz a ruptura; e doendo ainda mais sofregamente quando, como agora, o atordoamento que saboreia é pouco para o vício: condenado à escassez de sua droga e a precisar de doses cada vez maiores para saciar, pelas breves eternidades do tempo afora, a fome de assombros que lhe façam sentir vivo e lhe digam, na linguagem clara dos fatos, que o mundo ainda se transforma em incertezas, apesar das células tão acostumadas à mesmice de tudo que seu corpo carrega, ressecado, quebradiço. Mas ainda curioso, ainda sôfrego, ainda esperançoso das dores que busca nos incalculados da vida. Inocente, a nos dar de beber sua sede.
À direita da eternidade, o crítico, ofendido pelo erro como se lhe fosse uma injúria pessoal. A ele!, que tão cuidadosamente cultivara toda uma sensibilidade, e buscava, nas penumbras dos teatros, fugir da rudeza de sob o sol, e mergulhar apenas no que se condicionara a achar belo. Ofendidíssimo, as mãos tremendo. Inocente.
À esquerda, a irmã da bailarina, sofrendo uma vergonha muda sem sentido, por dever familiar ou convenção social que nada tem a ver com seu amor pela mais velha.
A noroeste. No balcão nobre, frisas e camarotes. Nas bordas todas da eternidade. Nos oitocentos e trinta e sete lugares ocupados. Em todos, entre todos, de cada inocente ao outro, a dor, as muitas dores, tão pungentes, delicadas, expostas aos desconhecidos com quem se compartilhara uma visão da queda. Para sempre.
E então, porque tudo cessa, a eternidade cessou. A dor, toda dor, sempre amaina. E no instante seguinte, nos entremeios da dança que prosseguia, coreografando o tempo infinito, nossas dores inculpadas, matéria da eternidade, também foram se aquietando e a eternidade foi desvanecendo, até que não mais. Mistérios, porque tudo são mistérios.
Epílogo
Depois de recomposto o mundo, depois de cessada a eternidade — porque também elas se acabam — muito depois, quase ao fim do espetáculo, outro desastre, outro soluço na fluidez do existir: desta vez, sim, a música. Inter-rompida. Durante segundos a gritar tão alto seu silêncio que poderiam ensurdecer as aves migratórias do Ártico em pleno voo. O silêncio, vocês sabem, é sempre perigoso. Sempre emprenhado de eternidades possíveis. Mas dessa vez, mesmo já tão longe daquela outra eternidade, desvanecida, outra não se germinou. Já fôramos tocados. Não éramos mais inocentes.